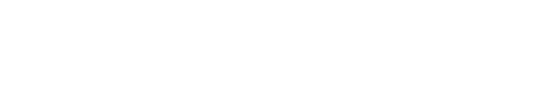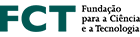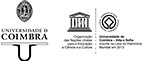| Prefácio | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
25 de Abril
O processo de transfiguração do país que o 25 de Abril de 1974 abriu foi descrito como “Revolução dos Três D” (Democratizar, Descolonizar, Desenvolver). Este é o fundamento comum dos projetos políticos com os quais nos confrontámos por mais de três décadas e meia. A expressão pode parecer hoje algo redutora por não englobar as enormes mudanças que estavam para ocorrer no campo da vida privada, das relações de trabalho e das práticas culturais, mas não deixa de verbalizar princípios programáticos e uma linha de rumo que cruzaram os anos e os diferentes governos. Democratizar supunha assim abrir a gestão da coisa pública e do coletivo à voz e à vontade livremente expressa dos cidadãos, o que até ali era impossível. Descolonizar significava alijar o fardo da ideia de império e do domínio dos povos colonizados, o que até ali era impraticável. Desenvolver impunha encontrar e expandir novos ritmos para a criação de riqueza e o bem-estar das populações, o que não constava das perspetivas do velho “país habitual”, idealizado por Salazar como quieto, naturalmente desigual e indiferente às tentações da vida moderna.
A memória partilhada do 25 de Abril guardou esse rastro, que, até há pouco, governo algum se propôs contrariar. À esquerda ou à direita do bloco político que tomou conta da gestão do Portugal pós-revolucionário, com ou sem cravo ao peito, fosse qual fosse a posição diante da Constituição aprovada em 1976, programas e orçamentos jamais ousaram afastar o horizonte de um país melhor, habitado por portugueses mais felizes, tendencialmente «livre, justo e solidário». Só o atual contexto de crise pôs travão a esta orientação, definindo uma nova realidade na qual a ditadura dos mercados parece impor, com a complacência de quem governa, o retorno a uma paisagem na qual os processos da democracia e os caminhos do desenvolvimento são confrontados com um enorme recuo e uma subalternização neocolonial. Na década de 1980, referindo-se a Portugal, João Martins Pereira falava da «singular intensidade do seu passado recente». No presente, perante o cenário de resignação e pessimismo que emana da atuação das autoridades públicas, o recurso a estratégias de alternativa passa pelo exercício de uma intensidade democrática em ação, de uma dinâmica do possível, da qual o 25 de Abril permanece um sinal.
Rui Bebiano
AAA (agências de notação)
AAA, triplo A, é a classificação máxima atribuída pelas principais agências de notação de risco de crédito (agências de rating) a obrigações ou títulos de débito e às entidades que os emitem nos mercados de capitais. As escalas usadas pelas agências são, em geral, combinatórias de símbolos e representam os sucessivos níveis em que classificam os títulos de dívida. O nível de confiança máximo (prime) das três principais agências é, no essencial, o mesmo, AAA. Mede-se o risco envolvido na aquisição de títulos, desde os que merecem inteira confiança (“investimento”) até ao que se consideram “especulativos”, arriscados ou em default, isto é, emitidos por uma entidade incapaz de saldar compromissos. A notação refere-se, pois, à solvência do emitente e à qualidade do instrumento financeiro emitido, tendo em conta informação sobre ativos e passivos, receitas, nível de endividamento e comportamentos financeiros.
A notação do crédito através de entidades de natureza mercantil, as agências, tem uma longa história, iniciada no século XIX, quando se tratava de facilitar participações em grandes investimentos de natureza infraestrutural (grandes obras) ou produtiva. Foi, assim, um instrumento de mobilização de poupanças para o financiamento de projetos de desenvolvimento e de empresas neles envolvidas. No entanto, a notoriedade das agências e do rating adquiriu expressão máxima em tempos recentes, no período de financeirização das economias, quando fundos de montantes muito elevados se tornaram intervenientes na concessão do crédito e procuram rendimentos através de operações sistemáticas realizadas à escala global. Os próprios Estados passaram a financiar-se através dos chamados mercados financeiros e as dívidas soberanas tornaram-se objeto dessas transações. Os efeitos perversos do papel das agências, a conflitualidade de interesses que as envolve e a arbitrariedade das suas decisões, alheias a uma regulação adequada, têm sido severamente criticados.
José Reis
Ação coletiva
A ação coletiva pode constituir-se enquanto modus operandi num processo de conflito, negociação e resolução de situações problemáticas. Emerge da existência de interesses divergentes e visa a transformação de descontentamento ou de reivindicação em atos públicos de natureza coletiva. Traduz-se numa reação organizada face a ameaças concretas, procurando intencionalmente ativar processos de mobilização capazes de transformar uma conjuntura ou as estruturas político-sociais vigentes. Sendo, numa das suas dimensões, parte integrante da morfologia do conflito social, não deve ser entendida como patologia, mas como idiossincrasia racional de coletivos que partilham interesses, objetivos e ideologias comuns. É, nesse sentido, um recurso político de grupos sociais “sem poder” e assenta no direito de intervir na ordem pública.
A anatomia da ação coletiva pode assumir formatos variáveis, desde rituais de manifestação no espaço público (ações de protesto, concentrações ou greves) a formas de intervenção menos diretas (abaixo-assinados, manifestos, etc.), que, na sua evolução, podem conduzir à organização de movimentos sociais consolidados. Enquanto expressão da possibilidade de participação direta dos cidadãos na vida pública e na definição do bem comum constitui-se como uma interpelação a sistemas democráticos rígidos e hierarquizados, que consagram a representação instituída como única forma de governação.
Atualmente, muitas das formas de ação coletiva encontram a sua identidade e mundividência no combate às consequências de políticas neoliberais, suscitando a convergência de estratégias num movimento global, antissistémico, que encontra no Fórum Social Mundial uma das suas traduções mais eloquentes. O conceito resulta, portanto, de uma conjugação de sentidos conciliadores que marcam a polissemia que lhe é subjacente: é um sinónimo de reivindicação, pressão, contestação, questionamento e resistência. Mas é também uma expressão de participação, de afirmação de alternativa e de emancipação.
Ana Raquel Matos
Acesso ao Direito e à Justiça
O acesso ao direito e à justiça tem um papel central nas democracias, dado que não há democracia sem o respeito pela garantia dos direitos dos cidadãos.
Estes, por sua vez, não existem se o sistema jurídico e judicial não for de livre acesso a todos, independentemente de classe social, sexo, raça, etnia e religião.
Aceder ao direito e à justiça significa a conquista da cidadania e alcançar o estatuto de sujeito de direito e de direitos. Assim, garantir o acesso ao direito e à justiça é assegurar que os cidadãos conhecem os seus direitos, que não se resignam quando estes são lesados e que têm condições para vencer os custos e as barreiras psicológicas, sociais, económicas e culturais para aceder ao direito (informação e/ou consulta jurídica e patrocínio jurídico) e aos meios mais adequados e legitimados – sejam judiciais (tribunais) ou não judiciais (resolução alternativa de litígios) – para a resolução do seu litígio.
Daí que o acesso ao direito e à justiça seja hoje considerado não só um direito fundamental, como também um direito social e humano, com consagração no direito internacional e constitucional (art.º 20.º da CRP). O acesso ao direito e à justiça é, assim, um compensador das desigualdades sociais, democratizando os conflitos sociais (v.g., de família, trabalho, etc.) e contribuindo para o respeito pela dignidade humana e melhoria da qualidade da democracia.
Neste início do século XXI verifica-se uma tensão entre, por um lado, os defensores da supressão das políticas públicas e dos regimes jurídicos de acesso ao direito e à justiça e, por outro, aqueles que defendem a sua (re)universalização enquanto política pública e prática social, em cada sociedade. O caminho parece ser uma política de ação pública do acesso ao direito e à justiça articulada entre os atores do Estado e da comunidade (ONG) que, em parceria, disponibilizem aos cidadãos informação e representação jurídica e um sistema acessível de resolução de conflitos.
João Pedroso
Acidentes de trabalho
A cada cinco segundos há um acidente de trabalho na Europa. Em Portugal, este valor ronda os 230 mil acidentes/ano. Em termos mundiais, o número de pessoas vítimas de acidentes de trabalho, por ano, é cerca de três vezes o número de pessoas que morrem em conflitos armados. Perante as 450 mortes diárias de trabalhadores europeus por causas relacionadas com o trabalho, a segurança e a saúde laborais não podem ser consideradas um luxo, mesmo em tempos de crise, nem continuarem a ser vistas como um custo acrescido por parte das empresas.
Os impactos da crise têm efeitos potencialmente negativos na segurança e saúde no trabalho e nas condições de trabalho em geral, apesar de a redução do emprego conduzir a uma diminuição dos acidentes de trabalho em alguns países. O aumento da intensidade e pressão do trabalho, o crescimento do grau de insegurança quanto ao emprego, a redução do investimento em políticas de prevenção e a redução das exigências em termos de segurança por parte dos trabalhadores, face às condições de precariedade em que se encontram, contribuem para uma maior incidência dos riscos profissionais e dos acidentes de trabalho.
As políticas de prevenção dos acidentes de trabalho (e doenças profissionais) têm salvado milhares de vidas, do mesmo modo que contribuem para o aumento da competitividade e o crescimento económico, uma vez que permitem reduzir os custos económicos associados. Deste modo, as políticas e medidas de prevenção não podem ser prejudicadas pelos constrangimentos económicos e financeiros das empresas e dos governos. Por outro lado, perante a inevitabilidade de prevenir todos os acidentes de trabalho, a reparação dos danos resultantes e os níveis de proteção social dos trabalhadores sinistrados não podem ser reduzidos. Os acidentes de trabalho têm impactos sociais e familiares graves que deixam a descoberto um conjunto de vulnerabilidades e injustiças, que pode ser agravado pelo acidente e pela condição de incapacitado. As repercussões de um acidente saem do local de trabalho e passam para a casa da vítima, fragilizando a sua condição de cidadão e conduzindo ao seu afastamento do mundo do trabalho.
Teresa Maneca Lima
Afrodescendentes
A imigração de africanos – sobretudo dos PALOP – para Portugal conheceu um forte impulso após a descolonização. Estas comunidades e os seus descendentes, cidadãos portugueses de pleno direito, enfrentam, ainda hoje, grande parte dos problemas de marginalização e exclusão que encontraram à chegada. Diversos estudos revelam que a taxa de desemprego da população ativa de imigrantes africanos é superior à registada noutras comunidades imigrantes (sendo a integração no mercado de trabalho marcada pela precariedade, por salários comparativamente mais baixos e pela evidente insuficiência de direitos e de proteção social), e que as perceções dominantes da sociedade portuguesa sobre o imigrante africano tendem a ser marcadas por estereótipos negativos. Estas tendências têm sido intensificadas em contexto de crise económica. Quem constrói a marginalidade?
A ONU proclamou o ano de 2011 como o Ano Internacional dos afrodescendentes. Apesar de alguns aspetos problemáticos do seu enquadramento, esta iniciativa torna explícito o reconhecimento do colonialismo como causa maior nos fenómenos de racismo, discriminação, marginalização e exclusão dos povos indígenas, incluindo africanos, e seus descendentes. Este reconhecimento importa na medida em que permite compreender que o colonialismo, longe de ser uma realidade histórica terminada, persiste enquanto estrutura de relação. O desafio reside em compreender que fenómenos como o racismo e a exclusão não decorrem de preconceitos individuais mas, sim, de estruturas de pensamento e prática de cariz colonial operantes e excludentes. Isto permite desconstruir noções mistificadas que descrevem Portugal como um país onde o racismo não é um fenómeno de relevo. Estas noções continuam a informar a formulação de políticas públicas, reduzindo a integração de imigrantes a uma questão de assimilação normativa sem confrontar diretamente as dinâmicas e as consequências do racismo e sem contrariar eficazmente a lógica de perpetuação geracional da exclusão.
Catarina Gomes
Agricultura
A crise da agricultura é provavelmente a mais grave das consequências da globalização económica do último meio século. Ela evidenciou-se dramaticamente nas crises alimentares que afligiram os países pobres em 2008 e 2011. Os seus contornos podem ser caracterizados por meio de uma série de dados alarmantes sobre o aumento dos preços ao consumo, da fome, da malnutrição e de doenças crónicas como obesidade e diabetes. A origem da grande maioria destes problemas foi a industrialização da agricultura, que, juntamente com a chamada “revolução verde”, veio a impor as monoculturas com altos inputs de petróleo, agroquímicos e água, aumentando a erosão dos solos e a exaustão dos aquíferos e reduzindo a diversidade biológica e dos ecossistemas, o que contribui para uma maior suscetibilidade a eventos catastróficos.
A agricultura industrial também trouxe novos riscos para a saúde, perda de autonomia dos agricultores, rendimentos decrescentes. Este modelo foi-se impondo ao mundo inteiro por meio dos acordos comerciais do período do pós-guerra, e especialmente das últimas duas décadas, que levaram à imposição dos produtos agrícolas do Norte nos mercados do Sul, à abolição das reservas alimentares destes e, consequentemente, ao empobrecimento dos camponeses e ao abandono/expulsão rural acompanhada do ‘‘açambarcamento” de terras por parte de grandes multinacionais e Estados tendo em vista a especulação sobre valores futuros, a implantação de monoculturas de agrocombustíveis e de outros produtos com alto valor de mercado. As mudanças climáticas da última década contribuíram também para agravar as crises alimentares e a subida dos preços agrícolas, provocando perda de colheitas devido a desastres naturais.
A alternativa ao modelo corrente de agricultura, tal como vai sendo defendida por organizações e movimentos sociais internacionais, como o Food First!, GRAIN e Via Campesina, consiste em três medidas fundamentais: 1) manter a terra na posse de comunidades de agricultores, 2) apoiar métodos agro-ecológicos de cultivo com programas de investigação participativa, 3) mudar as políticas de mercado no sentido de alcançar a soberania alimentar local.
Stefania Barca
Água
A governação nacional da água tem seguido grosso modo um modelo de serviço público com uma forte componente hidráulica: toda a população com direito de acesso a água potável e o Estado como responsável por assegurar essa universalidade construindo as infraestruturas necessárias.
O alargamento do modelo neoliberal ao setor da água tem tido implicações profundas um pouco por todo o mundo, nomeadamente com a definição do preço como mecanismo de distribuição. Esta mercantilização da água é justificada pela necessidade de tornar o Estado eficiente e de financiar os investimentos necessários à manutenção da rede de tratamento e abastecimento, envolvendo, normalmente, a participação de privados. Este processo possibilita que um direito de cidadania se transforme num direito de consumo, permitindo a exclusão do acesso à água por falta de pagamento. A crise financeira agudiza este processo mercantilizador ao requerer uma diminuição da despesa do Estado e a participação do setor privado também no setor da água. Em vários países esta situação desencadeou conflitos violentos. Ainda assim, alguns governos têm conseguido gerir estas tensões, definindo critérios e mecanismos para que o princípio da equidade social seja assegurado, mesmo com a definição e atualização de preços e a participação de privados.
A consagração do direito humano à água constitui um instrumento com potencial para minimizar os impactos negativos da mercantilização, ao definir um montante mínimo gratuito de água por dia e por pessoa. A discussão em torno da governação da água inclui a criação de um modelo participativo de definição de prioridades de utilização pelos habitantes da bacia de cada rio, lago ou aquífero, mesmo que internacional, e, ao mesmo tempo, a defesa da água como bem comum não só da região que a envolve, mas da própria humanidade. Estes diversos níveis não são excludentes e atribuem às pessoas, às comunidades, aos Estados, às regiões e à própria humanidade uma voz no processo de governação. Sem uma discussão alargada sobre a proteção da água e a garantia do acesso universal sustentável à água a toda a população, qualquer modelo de governação hídrica se encontra permeável aos interesses económicos e políticos do momento.
Paula Duarte Lopes
Ajuda externa
A ajuda externa é a transferência voluntária de recursos financeiros, bens ou serviços para um Estado e respetiva sociedade, na forma de donativos ou empréstimos bonificados, com a finalidade de promover o desenvolvimento económico e o bem-estar social. Não obstante os dois princípios básicos da ajuda externa – emanar de um dever moral altruísta e produzir resultados benéficos para o recetor – encontrarem pouco eco nas relações internacionais contemporâneas, a recorrente associação do termo a situações em visível contradição com esta lógica de motivação e impacto tem contribuído para um entendimento distorcido das intervenções dos países mais ricos em países mais pobres.
Particularmente evidente no caso de Portugal, o discurso dominante da “ajuda” para se referir à ação da troika camufla uma situação que deveria, na realidade, ser caracterizada como empréstimo não-concessional, com juros entre 4 e 5% que podem vir a atingir metade do valor total do financiamento externo. A ideia de “auxílio” não só engrandece os credores, como esconde a principal motivação da intervenção externa: a salvaguarda dos seus próprios interesses económicos – evidenciada pelo facto de os países que suportam a maior parte do empréstimo serem aqueles mais expostos a uma eventual falência do Estado português.
Esta representação generalizada da intervenção enquanto “ajuda” produz ainda uma clara relação de poder entre credores e devedores que per-mite internalizar a culpa e externalizar a solução. Responsabilizado pela crise, o devedor é colocado numa situação de aceitação passiva das receitas impostas para a ultrapassar. Notícias sobre o governo português apostado em ser um “bom aluno” evidenciam uma lógica de dependência que não se esgota na sua dimensão financeira e se manifesta, de forma porventura mais premente, na adoção acrítica do modelo económico prescrito pelos credores. Em última análise, a perceção de “ajuda” legitima a assimetria entre os países que intervêm e os que são intervencionados, construindo uma aparência de inevitabilidade que resiste mesmo perante resultados contraditórios e o agravamento da crise que se propunha resolver.
Teresa Cravo
Alemanha
Entre os países que constituem a atual União Europeia, a República Federal da Alemanha é o maior, o mais populoso e o que dispõe de uma economia mais robusta. No pós-Segunda Guerra Mundial, a rápida recuperação de um país destruído e dividido, na sequência do muitas vezes equivocamente chamado “milagre económico”, fez-se em dois planos: a partir de uma poderosa dinâmica de reconstrução e desenvolvimento baseada na ajuda externa, através do Plano Marshall, e, concomitantemente, através da integração europeia, com o embrião do que viria a ser a atual União. O processo de unificação, em 1990, colocou desafios enormes à política e à economia alemãs, pela necessidade de destinar recursos avultadíssimos à integração do espaço alemão e à recuperação económica do Leste, mas, ao mesmo tempo, marcou
o início de um reposicionamento e a definitiva conquista de um lugar crescentemente hegemónico no contexto da União Europeia.
A situação europeia da RFA alterou-se muito substancialmente com a unificação, a queda do império soviético e o deslocamento dos equilíbrios interestatais, na sequência da adesão sucessiva de novos países à União Europeia e da ressurreição do conceito de uma “Europa Central”. Com uma marcada vocação exportadora, a economia alemã foi também uma das principais beneficiárias da criação da moeda única europeia. Apesar disso, no plano interno, a assunção de uma posição de hegemonia no âmbito europeu tem, paradoxalmente, vindo a ser combinada com visões tendencialmente provincianas, por vezes mesmo de cariz nacionalista. Estas têm contribuído, através da consolidação de um eixo germano-francês (“Merkozy”) dominado pela Alemanha e em condições de influenciar decididamente as tomadas de decisão, para a afirmação de um discurso político hegemónico que silencia as alternativas e, concomitantemente, para a ausência de medidas políticas europeias verdadeiramente suscetíveis de fazer frente à crise económica atual e de conduzir a uma Europa mais justa e igualitária.
António Sousa Ribeiro
Alterações climáticas
O efeito de estufa, que descreve a relação entre os gases com efeito de estufa e a temperatura média da Terra, foi comprovado laboratorialmente pelo físico John Tyndall já em 1861. Mas seria necessário esperar mais de um século até que as alterações climáticas entrassem na agenda política, nomeadamente por causa das incertezas profundas em torno das previsões do clima futuro.
Com o fim de fornecer aos decisores políticos dados objetivos que pudessem servir de base para as políticas ambientais, foi criado, em 1988, o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (PIAC), ao abrigo das Nações Unidas. O painel agrega milhares de cientistas e de decisores políticos, e tem por missão produzir relatórios que sintetizem o estado geral da ciência do clima. Mas a criação do PIAC não resolveu as disputas sobre a verdade científica e as políticas ambientais. Descobertas científicas suscetíveis de sustentar a regulação da atividade produtiva têm sido regularmente arrastadas do laboratório para espaços públicos de debate e deliberação. Para a contestação dos resultados científicos, contribuíram muito as campanhas de desinformação financiadas por empresas de combustíveis fósseis, assim como a contestação da parte de forças políticas conservadoras.
Apesar da polémica, foi assinado em 1997 o Protocolo de Quioto, que prevê uma redução até 2012 das emissões de gases com efeito de estufa em 5%, a partir do nível de 1990. Mas este acordo tem sido criticado por ambientalistas como sendo pouco ambicioso. Por outro lado, a ligação entre o esforço de redução de emissões e um mercado especulativo de créditos de carbono tem criado tensões crescentes com movimentos pela justiça ambiental e comunidades locais do Sul global, que se opõem à solução de mercado por permitir que as empresas do Norte continuem a poluir. A recente introdução das florestas no mercado de carbono apenas agravará as tensões, na medida em que implica a privatização das florestas do Sul, onde vivem comunidades indígenas.
Ricardo Coelho
Alternativa
O capitalismo neoliberal será crescentemente contestado na medida em que as suas crises permitam entrever novos rumos, menos voláteis, menos imperialistas, menos dependentes de assimetrias estruturais. Em qualquer contexto sócio-histórico, as lógicas dominantes de organização da vida social coexistem com propostas de alternativa cuja premência se adensa em função de vários fatores. Assim, o imperativo de alternativas tende a ganhar força, em primeiro lugar, com o reconhecimento da insustentabilidade de um dado modelo de desenvolvimento – ou da própria ideia de desenvolvimento. Neste particular, em vista de uma galopante degradação ambiental, avulta a contradição entre a finitude dos recursos do planeta e a ilusão capitalista de uma acumulação infinita.
Em segundo lugar, o anseio de alternativas depende da possibilidade de se verterem descontentamentos e desesperos em insurgências ativas pela justiça social. Uma tal tradução, afeita a denunciar sistemas de exploração, incita a um aprofundamento democrático bem como a um pensamento pós-colonial. Num momento em que a voragem cumulativa acirra desigualdades no espaço europeu, importa que o reconhecimento da predação capitalista seja igualmente a denúncia do modelo socioeconómico que, através do colonialismo e do neocolonialismo, longamente tem exaurido o Sul global.
Em terceiro lugar, o reclamar de alternativas depende da verosimilhança atribuída a um outro mundo possível. O pensamento da alternativa reconhece hoje a falência de modelos únicos, pelo que será crucial a construção de diálogos e de inteligibilidades entre as diferentes formas de resistir à dominação capitalista no mundo. Porque nada é mais plausível do que aquilo que existe, é importante que a busca de soluções comece por valorizar experiências em que o privilégio da solidariedade e do ambiente tenham dado provas de congregarem o desígnio de vidas decentes e futuros sustentáveis. Porque nada é mais letal do que a resignação, é importante que a alternativa às crises do capitalismo não seja a submissão a mais capitalismo. Na recusa do sistema económico que governa o presente, a busca de alternativas convoca as imaginações forjadas a partir dos muitos presentes silenciados.
Bruno Sena Martins
Ambientalismo
O ambientalismo agrega um conjunto heterogéneo de movimentos sociais em torno de perspetivas éticas e políticas que defendem explicitamente outras formas de nos relacionarmos com o ambiente e com as outras espé¬cies do planeta, para promover a saúde, o bem-estar humano e os ecossiste¬mas dos quais fazemos parte.
As sucessivas crises ecológicas resultantes de modos de produção industriais e intensivos revelaram as consequências inesperadas das novas tecnologias. A visão dominante do ambientalismo trabalha em propostas científicas e sociais para reduzir os impactos negativos dos modos de pro-dução, envolvendo os Estados e a sociedade civil em cooperação com as indústrias e mercados de consumo, de forma a encontrar soluções menos agressivas para a saúde e para o ambiente. No entanto, os confl itos ambien-tais revelam também as dimensões sociais dos problemas e as difi culdades de implementar sistemas de regulação eficazes para tecnologias mais “limpas”.
Os movimentos defensores da justiça ambiental centram-se na denún¬cia de problemas que afetam de forma desigual as populações, incidindo de forma particularmente violenta sobre os trabalhadores e grupos vulneráveis. As lutas por justiça articulam-se frequentemente com as lutas pela realização dos direitos humanos e dos direitos da natureza, na forma de mobilizações sócio-legais pela reparação do ambiente e da saúde de comunidades afetadas. Desta forma, lutas pela subsistência por parte de comunidades com formas diferentes de organização social, de relação com o ambiente e com outras espécies podem vir a ser enquadradas como movimentos ambientalistas.
Atualmente, existe uma pluralidade de conhecimentos e práticas cien-tíficas, tanto por parte de profissionais como das populações em geral, que podem servir de base para nos relacionarmos de forma diferente com a bios-fera de que dependemos. Por isso, o movimento ambientalista está em evo-lução contínua, com a criação de novas alianças desde os níveis locais para construir outras globalizações.
Rita Serra
Angola
O primeiro investimento angolano em Portugal consistiu na tentativa de compra de 49% do BANIF pelo Estado de Angola na década de 1990. Em 2005, a Sonangol realiza o seu primeiro investimento de relevo na Galp Energia. Em 2007, a Sonangol entra no capital do BCP. Recentemente, capital angolano passou a deter posições no BPI e na ZON. Apesar desta presença, o investimento direto angolano em Portugal representou, em 2010, apenas 0,1% do total de investimento estrangeiro no país. Por outro lado, Angola representa um dos principais destinos das exportações portuguesas. Entre 2006 e 2007, estas apresentaram um crescimento de 38,8%. E, embora se tenha registado uma quebra de 15% das exportações portuguesas para Angola durante 2010, o país continua a deter a quarta posição dos principais destinos das exportações portuguesas.
Marcadas de modo indelével pela dominação colonial portuguesa, as relações entre os dois países têm sido reconfiguradas pelas contingências da crise europeia que afeta Portugal de modo especialmente contundente. Espartilhado por um programa de ajustamento estrutural que impõe ao país o prosseguimento ultraortodoxo dos receituários mais radicais do neoliberalismo, o país procura, através da sua política de privatizações, captar investimento estrangeiro, dando particular atenção ao investimento angolano. Este tem sido objeto de alguns receios por parte de setores da sociedade portuguesa e de responsáveis europeus. Todavia, em face da inaptidão europeia para encontrar soluções, o espaço da CPLP, com relevo para Brasil e Angola, afigura-se como avenida para que Portugal possa reposicionar-se nas atuais reconfigurações geopolíticas e económicas da globalização. A questão a colocar é se de tais reconfigurações emergirão novos modelos de desenvolvimento sustentado, democrático e partilhado, incluindo para Portugal e para a Europa e seus parceiros, ou se permitirão a intensificação da ortodoxia neoliberal e do concomitante agravamento da dualização social.
Catarina Gomes
Argentina
Ao longo dos anos 80 do século XX, a Argentina conheceu um processo de baixo crescimento e elevada inflação. Enfrentando uma das maiores dívidas externas do mundo, os governos argentinos tentaram algumas iniciativas de estabilização dos preços. Em 1991, lançaram o Plano de Convertibilidade, adotando a paridade cambial do peso argentino com o dólar americano. O FMI e o Banco Mundial consideraram que se tratava de um exemplo a ser seguido pelos países periféricos. Entre 1992 e 1998, a economia cresceu ao ritmo de 6% ao ano. A privatização das empresas públicas, a desregulação do mercado de trabalho e a abertura incondicional ao capital externo resultaram na acumulação de um défice corrente de mais de 60 mil milhões de dólares, financiado por uma entrada de capitais de cerca de 100 mil milhões de dólares.
Em 2001, a situação atingiu o ponto de rutura com a fuga maciça de capitais. O FMI colocou o país em default, anunciando que não daria nem mais um dólar à Argentina sem que fosse definido um programa económico sustentável. As medidas destinadas a alcançar o “défice zero” sob intervenção do FMI previam duros ajustes, que desencadearam a contestação social.
A 24 de dezembro de 2001, o presidente Saá, declarou a suspensão dos pagamentos de todos os instrumentos de débito. Em janeiro de 2002, o governo argentino decretou o fim da convertibilidade, o que se traduziu na pesificação da economia e numa forte desvalorização cambial. A crise política consumiu quatro presidentes em pouco mais de uma semana. Em 25 de maio de 2003, Néstor Kirchner assumiu a presidência, defendendo a tese da corresponsabilidade dos investidores privados, do próprio FMI e das demais organizações financeiras internacionais na formação da dívida. Em março de 2005, 76,07% dos credores privados concordaram com a proposta de reestruturação da dívida apresentada pelo governo, apesar de representar uma perda de cerca de 73% face ao valor original dos títulos. O FMI classificou de “muito bom” o resultado da troca da dívida externa argentina.
A forma como a Argentina negociou a reestruturação da dívida externa, sem a intervenção do FMI, abre a possibilidade de outros países encararem o incumprimento como uma opção política.
Margarida Gomes
Arquitetura
No momento presente o país confronta-se com uma crise económica e financeira, com dimensões anteriormente difíceis de imaginar, cujas consequências se abatem sobre o seu território urbanizado ou em vias de urbanização. Os efeitos desta crise, devida aos excessivos níveis de endividamento, levou a que as instituições financeiras diminuíssem drasticamente o crédito disponível para investimentos em novas construções ou em reabilitação das existentes. Este efeito é visível nas estatísticas da construção e da habitação que mostram que o número de construções decresceu, na última década, sensivelmente para metade, tanto no que se refere a novas construções como à requalificação do parque edificado.
Acrescente-se a esta rarefação dos investimentos a diminuição da procura de serviços profissionais de arquitetura, o que conduziu, em alguns casos, a uma inaceitável relação custo/qualidade dos serviços prestados e a uma emigração, sem precedentes, de quadros profissionais qualificados, principalmente perante o atual estado de desordenamento do território, a que não é estranha a manta de retalhos da legislação urbanística e a atuação das forças económicas afetas ao setor da construção. Como se isso não bastasse, junte-se a esta situação a crise ambiental resultante das alterações climáticas e cuja resolução se configura como uma prioridade, na medida em que põe em risco de vida imediato as populações residentes, como coloca em causa o património construído.
A arquitetura tem por finalidade tornar a vida das pessoas mais confortável e feliz e de fazer face aos desafios, sejam estes oriundos das oscilações do mercado da construção, sejam devidos às alterações da natureza. A questão está em saber lidar, perante um futuro incerto e um património arquitetónico de referência, com as variáveis de projeto e de conceção de obra para atenuar, de forma significativa e sustentável, estes problemas inadiáveis. Impõe-se, consequentemente, o estabelecimento de uma política pública de arquitetura que, perante as forças do mercado e de forma ordenada, estabeleça objetivos e metas para promover a qualidade das intervenções arquitetónicas face aos presentes desafios, sejam estes de natureza económico-financeira, de natureza ambiental ou de natureza patrimonial e cultural.
Mário Krüger
Arte
A arte é uma necessidade paralela à vida. Vive dela e dela prescinde. E é na ação de prescindir dela que, paradoxalmente, afirma a vida, porque precisa da vida para dela se afastar. Ou seja: parte dela, manifesta-se a partir dela.
Em tempo de crise, não propriamente da arte, mas do mundo em que a arte vive, e onde vivem todas as outras coisas, mais do que o que muda na arte, interessa o que poderá mudar no olhar sobre ela e, sobretudo, como poderá ser afetado o olhar que ela terá de si própria.
Nas estratégias da arte, para subsistência da experiência estética, podemos encontrar a manutenção da dúvida. Mas uma dúvida sobranceira, não propriamente humilde, denunciando a falácia das certezas.
Muitos encontram na arte uma alternativa à racionalidade (e, na valorização do irracional em arte, encontram a facilidade de uma definição que, prescindindo da lógica, nem precisa de se definir). Mas o lugar da arte dificilmente se afirmará por essa manifestação de uma diferença exótica, num mundo em que a irracionalidade impera.
Por outro lado, num mundo em crise, está aberta a vingança oportunista da mediocridade. O pragmatismo da procura da sobrevivência material torna “quase” permissível colocar a possibilidade da suspensão da arte. Ou, então, criar na arte um sentimento de necessidade absoluta de justificação ética, numa procura desesperada de prova de utilidade.
Perante a realidade, ou as realidades do indivíduo, na sua dimensão singular ou coletiva, a arte é sobretudo produto da perceção e da inteligência.
Em certas formas de encarar uma dimensão romântica da arte, uma atmosfera depressiva e adversa até seria o cadinho ideal para a criatividade. Mas os artistas sabem que a arte não é propriamente um paliativo para as mágoas da vida.
Ultrapassada a insanidade, desejavelmente temporária, que as crises provocam, será certamente reconhecido na arte um dos mais expressivos redutos de dignidade.
António Olaio
Assistencialismo
O assistencialismo é uma perspetiva de intervenção social que prioriza a organização de respostas para os casos de necessidade extrema, em vez de garantir padrões mínimos de bem-estar para todos. Nas sociedades contemporâneas, em que os Estados assumem particulares obrigações em matéria de proteção social, ela marcou o perfil das políticas sociais públicas de muitos países enquanto medidas de caráter subsidiário, de recurso eventual, e condicionadas à prova da falta de meios para resolver os problemas.
Sendo este o regime regra dos Estados-Providência de tipo liberal, como a Inglaterra ou os Estados Unidos da América, a filosofia assistencialista tem vindo a ganhar apoios em governos conservadores e mesmo social-democratas, e a influenciar as reformas levadas a cabo por muitos deles nestas duas últimas décadas. Os cortes na despesa social para reduzir ou evitar os défices das contas públicas saldam-se, quase sempre, em perdas de direitos para alguns, com o argumento de que estes devem ser garantidos apenas a quem deles precisa e, deste modo, princípios de seletividade têm vindo a substituir progressivamente as tendências universalistas da proteção social. Ao mesmo tempo que as alternativas na área dos impostos, de uma mais justa redistribuição dos encargos fiscais, ou de uma recalibragem dos riscos cobertos pela proteção social pública são descartadas, os beneficiários das políticas sociais são obrigados a um regime apertado de contrapartidas, cujo escrutínio rigoroso leva facilmente à perda de direitos ou à marginalização social de quem não teve acesso às oportunidades de vida que uma sociedade desigual oferece apenas a alguns dos seus membros.
Tendo surgido, nas práticas do passado, essencialmente como uma iniciativa privada ligada a instituições filantrópicas, grupos informais de entreajuda e organizações religiosas, a assistência social está de novo a ser privatizada ou, quando não, a afastar-se dos padrões de solidariedade e universalismo baseados na cidadania social que as sociedades democráticas se impuseram e os seus Estados pareciam respeitar.
Pedro Hespanha
Ativo tóxico
Este termo tornou-se familiar com a crise financeira, aplicando-se não só à titularização dos créditos hipotecários, que permitiu aos bancos vender os empréstimos concedidos por si como títulos transacionáveis (como os MBS – mortgage backed securities), mas também aos produtos financeiros que a partir deles foram criados. É o caso dos CDS (credit default swaps), que são contratos de seguro do valor de um crédito em que o vendedor se compromete a indemnizar o comprador de todo o valor da dívida que não venha a ser paga. Embora estes ativos se apresentassem como muito arriscados, os ganhos que proporcionavam tornavam-nos irresistíveis, quer para as sociedades financeiras, quer para os gestores, que recebiam comissões em função dos seus desempenhos de curto prazo.
Quando o setor imobiliário colapsou, tornou-se claro que estes ativos estavam sobrevalorizados. Mas os bancos e outras instituições financeiras resistiram à sua venda numa vã tentativa de evitar fortes desvalorizações. O sistema financeiro ficou assim entulhado de ativos que nada valiam. Em setembro de 2008, o Banco Lehman Brothers, um dos principais vendedores de títulos hipotecários, faliu. Vários bancos e instituições financeiras foram posteriormente nacionalizados para evitar o colapso do sistema fi nanceiro norte-americano. O mesmo receio levou a semelhantes intervenções em outros países.
Os ativos tóxicos explicam assim a transmissão da crise do imobiliário norte-americano ao sistema financeiro mundial. Atingindo inicialmente os bancos que tinham promovido o crédito hipotecário de alto risco nos EUA, a crise do imobiliário acabou por se propagar às sociedades financeiras que tinham assumido o risco deste crédito através da compra dos títulos, levando depois atrás todas aquelas que detinham as suas ações. O sistema financeiro no seu conjunto acabou por ser arrastado, afetando a capacidade de financiamento da economia mundial, resultando na mais grave recessão económica desde a crise de 1929.
Ana Cordeiro Santos
Auditoria (cidadã à dívida pública)
Auditar é verificar as contas de uma organização, empresa ou setor de atividade. Existem auditorias internas e externas, desenvolvidas nas mais diversas áreas, para identificar vulnerabilidades face a riscos e desvios relativamente a objetivos e compromissos que obrigam os auditados. Os profissionais que as executam devem ser certificados para a função e seguir normas rigorosas, desde o plano técnico ao ético, o que muitas vezes não acontece.
A Auditoria Cidadã à Dívida Pública refere-se a um ato de um grupo de cidadãos que visa auditar as contas do Estado e, em particular, a sua dívida, procurando determinar a legitimidade de cada parcela. O movimento da auditoria cidadã teve origem na América do Sul, sendo o caso mais conhecido e bem-sucedido o do Equador. A crise da dívida na América do Sul, nos anos 80 do século XX, expôs conflitos claros entre a obrigação de cumprir os contratos de empréstimo e as obrigações primordiais dos Estados. O serviço da dívida, no contexto de uma espiral de subida dos juros, tornou-se um fardo nos orçamentos dos Estados, impedindo a satisfação de necessidades básicas e o financiamento de projetos de desenvolvimento. O FMI e o Banco Mundial responderam a esta crise com programas de “ajustamento estrutural”, voltados exclusivamente para a salvaguarda dos interesses dos credores. No entanto, o direito internacional reconhece que as obrigações resultantes de empréstimos não são absolutas nem incondicionais. A legitimidade jurídica da dívida pública pressupõe a existência de conformidade da dívida com o interesse geral e a não existência de conflito entre o serviço da dívida e os direitos humanos fundamentais. Algumas dívidas não respeitam estas condições e, nesse caso, a decisão soberana de repúdio da dívida por parte dos Estados devedores é legítima.
Com a “crise da dívida soberana”, o movimento da Auditoria Cidadã, que se desenvolveu na América do Sul, chegou à Europa. Existem processos de auditoria cidadã, e outras campanhas similares em curso, na Irlanda, Grécia, França, Itália, Espanha, Reino Unido, Bélgica e Polónia. Em Portugal, uma iniciativa de Auditoria Cidadã iniciou-se a 17 de dezembro de 2011.
Manuel Carvalho da Silva
Austeridade
O termo austeridade, no contexto económico atual, designa um conjunto de opções de política económica e social que tem como finalidade conter ou fazer regredir a despesa pública através de restrições nos orçamentos dos Estados e, desse modo, alterar a política redistributiva e os gastos associados ao funcionamento da economia e à reprodução social.
Por detrás das políticas de austeridade está a convicção de que os rendimentos formados na economia, correspondentes à riqueza criada, são inferiores à despesa pública e privada, inviabilizando a poupança, gerando défices e desequilibrando as relações intergeracionais, e que isso deve ser contido no curto prazo. Corresponde-lhe uma retórica sobre a “gordura do Estado”, sobre os comportamentos “irresponsáveis” dos cidadãos e sobre a confiança que é preciso dar aos mercados financeiros, considerados as fontes de financiamento da economia.
As políticas de austeridade começam por ser políticas orçamentais, com incidência na despesa pública na sua globalidade e, em especial, no investimento e nas funções sociais do Estado, mas tornam-se numa ação sobre os custos salariais e o valor do trabalho. Atingem, por isso, os direitos sociais adquiridos e a proteção social, num contexto em que o desemprego tende a crescer significativamente. Acarretam, inevitavelmente, uma compressão forte da procura e do poder de compra, pelo que reduzem o crescimento da economia e a possibilidade que as empresas têm de escoar a sua produção, o que origina descidas dos salários em todo o sistema de emprego, com acréscimo de assimetrias na relação laboral. São, pois, políticas recessivas.
Pode considerar-se que a via da austeridade está, em geral, associada a um empobrecimento dos países (desvalorização interna) e dos que vivem do rendimento do trabalho, sendo por isso fonte de desigualdades e injustiças crescentes, e à redução da capacidade produtiva através da diminuição do capital privado e do capital fixo social.
José Reis
Autogestão
A autogestão é um modelo de organização coletiva, baseado num ideal de democracia direta, em que os trabalhadores asseguram, diretamente ou através de representantes, a gestão da empresa ou instituição a que pertencem. Trata-se de um sistema de governo em que os produtores são decisores no que respeita aos meios e aos fins da produção. É uma proposta social e politicamente mais ambiciosa do que a simples participação (que significa apenas intervir em estruturas preexistentes com finalidades pré-definidas), a cogestão (que significa partilhar responsabilidades de gestão apenas dos meios produtivos) ou o controlo operário (que significa conceder aos trabalhadores apenas o poder de supervisão sobre o processo produtivo).
Fazendo coincidir o fator trabalho com a propriedade dos meios de produção, a autogestão estabelece-se por oposição às relações clássicas de produção capitalista, baseadas num princípio de dependência e submissão recíprocas entre o proprietário dos meios e o produtor de valor a partir daqueles (ou seja, o trabalhador). O ideal democrático da autogestão constitui um projeto de transformação social em si mesmo, podendo a sua pretensão emancipatória estender-se para além do perímetro da empresa: comunidades locais, escolas, hospitais e serviços públicos em geral.
Uma das fontes dos desequilíbrios da economia atual é a total separação entre o capital que investe e o trabalho que produz, i.e., uma economia centrada nos fins e não nos meios. Em contexto de crise, a revitalização da atenção dada aos meios pode ser uma alternativa poderosa ao modelo capitalista dominante, permitindo que pequenas iniciativas locais respondam com eficácia e justiça às necessidades comunitárias. As experiências cooperativas são um bom exemplo de autogestão, ao tentarem manter sob controlo dos trabalhadores as decisões de gestão e a forma como a riqueza gerada é aplicada, reinvestindo na atividade coletiva e remunerando o trabalho, não o capital. A maior ameaça a um novo modelo de organização económica não é a ausência de interessados, mas o desconhecimento das soluções propostas pela tecnologia social e as possibilidades criadoras da nova economia solidária.
Filipe Almeida